
… Para quem está em Lisboa, Ribeira de Baixo fica quase a quatro horas de caminho. Para quem está na minha terra, Ribeira de Baixo fica quase a cinco horas de distância. Eu faço sempre, a cada dia que passa quando falo com a gente da minha terra a distância em tempo. Mais em tempo que em quilómetros. Parece que fica mais perto. Menos longe. Mais quente. Há alturas em que estou (no máximo) três semanas sem ir à minha terra, sem pisar as minhas pedras como já aqui vos contei, sem ver a minha gente na terra da minha gente. E quando passa esse tempo sinto uma ansiedade que se explica por saudade ou apenas falta, ainda não se descobriu. Sinto falta. Dos meus, seguramente, mas os meus podem vir aqui. Posso falar com eles. Podemos encontrar uns e outros a meio do caminho ou em outro caminho qualquer se for caso disso. Eu sinto muita falta da minha terra. Da minha casa. Da minha gente sentada na porta de casa, encostada ao parapeito da janela ou assomada ao postigo. Eu sinto falta do barulho baixinho que se faz nas ruas e do tempo vagaroso que quase não passa por elas. Eu sou assim. Não sei se sou diferente. Eu fui sempre assim. Eu sou muito ligado à terra porque sempre tive claro que sou o que sou porque percebi cedo que nunca poderia virar as costas nem à terra nem ao que ela me ensina. Quando vou no caminho, ganho-lhe o sotaque, o peito fica mais leve, respiro melhor e entra uma paz tranquila que me alegra. Eu gosto da minha terra. E gostaria de outra terra qualquer, de um lugar que fosse, sempre que esse lugar fosse o lugar que me viu crescer e testemunhou tudo a meu respeito. Tudo. Ontem, quando dei de caras com a reportagem que se fez n’O Programa da Cristina’ sobre a barragem de Daivões e a gente que a barragem vai empurrar para fora da sua terra, fiquei triste. Durante aqueles largos minutos vi-me no espelho de pessoas que, mais crescidas que eu, cheias de passado ao lado, tinham o progresso a castrar-lhes tudo. A Barragem vai chegar e inundar tudo. Não são só tijolos, hortas, ruas, escola, igreja, café, talho, mercearia, praça… é tudo. Vão olhar para lá e vão ver água. Aquelas pessoas que lá estão, vão deixar de ver a memória, não nos podemos esquecer que muitas vezes nem a memória conseguimos guardar. Há alturas que é preciso vê-la. Aquelas pessoas vão deixar de andar nas ruas, de estar na porta, de se encostarem à janela, de se assomarem ao postigo. Pelo menos naquele postigo e esse postigo é que é importante, porque foi dali que viram a vida acontecer. Foi naquelas ruas que eles brincaram, que os filhos andaram, que os netos caíram. Foi da janela da casa que viram os filhos partir para fora e é à entrada da porta que os veem chegar de férias. Eu não sei como lidaria com o progresso a arrastar-me para fora de mim. Não sei mesmo. Juro que não sei. Falar de fora é fácil, criticar é ainda mais fácil. Ali o que vi foi a minha gente. A gente da minha terra a ficar sem ela. Quando na reportagem a senhora diz emocionada que a Figueira não lhe vai voltar a fazer sombra e se abraça a ela, foi como se me dessem um murro no estômago. Eu no seu lugar iria sentir-me impotente e com o peito a rasgar. O que senti ali foi isso. Foi transportar-me para o peito dela. Do marido que a consolava desconsolado e de olhos vazios que não o deixavam chorar ao mesmo tempo, pelo amparo e pela vergonha. Fiquei revoltado, porque vi um casal da idade da minha mãe dizer firmemente que vai abandonar o País, porque o País os está a mandar embora de casa sem a possibilidade de guardar, em lado nenhum o melhor que se pode ter: a memória. Não sei como lidaria com isso. Juro que não sei. Não queria lidar. Hoje, falei com uma colega minha, a Mafalda, ela está ali na secretária ao lado, disse-me que não tinha terra nem lugar. Eu acho que ela não consegue entender, o que é ‘ir à terra’, deixar a terra, ver a gente da terra sair e voltar. Ver as pessoas ficarem porque gostam, porque não podem sair, porque envelhecem ano seguido de ano sentadas todas as tardes, as tardes todas no mesmo banco na praça onde está o café central. Eu não gostava que me roubassem as pedras da rua mesmo que já esteja alcatroada. Lá por baixo estão as pedras e nas pedras estão as pegadas das pessoas que vão fazendo a nossa vida. Quando o progresso inundar com um cobertor de água o berço onde cresceram e se fizeram gente não se lhes vão ver as lágrimas. Não se vão ver porque se confundem com a água que lhes rouba tudo ou porque já secaram por dentro de tanto as verterem na esperança que alguém as escute escorregar. Eu não sei se para a minha colega Mafalda, que vive num grande centro urbano, a reportagem teve o impacto que teve em mim, ou talvez até nem tenha em pessoas que vivem em terras como a minha. Mas pouco importa. Posso ser só eu. Pode ser só uma pessoa a viver naquela terra naquele lugar… é dela. É dessa pessoa, não se pode dizer adeus a tudo a troco de uma casa nova, ou de uma quantia qualquer que alguém decide ser justa para apagar o que escrevemos. Seja ela qual for. Não paga a dor que fica quando não se pode voltar ao lugar que nos amarrou a vida toda. Onde vimos crescer e morrer. Pode ser uma parvoíce minha. Mas não queria nunca que isso me acontecesse. Não queria que isto acontecesse a ninguém. Com a água, naquela barragem serão afogadas à força as imagens do passado daquela gente. Assassinadas portanto. Não gosto disso e quando virem a reportagem – se ainda não viram – só queria que se metessem dentro dos sapatos destas pessoas. De vez em quando não custa. Mesmo que os donos dos sapatos tenham os pés cheios de sangue.





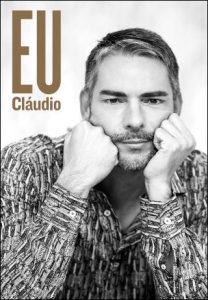




SUBSCREVER E SEGUIR